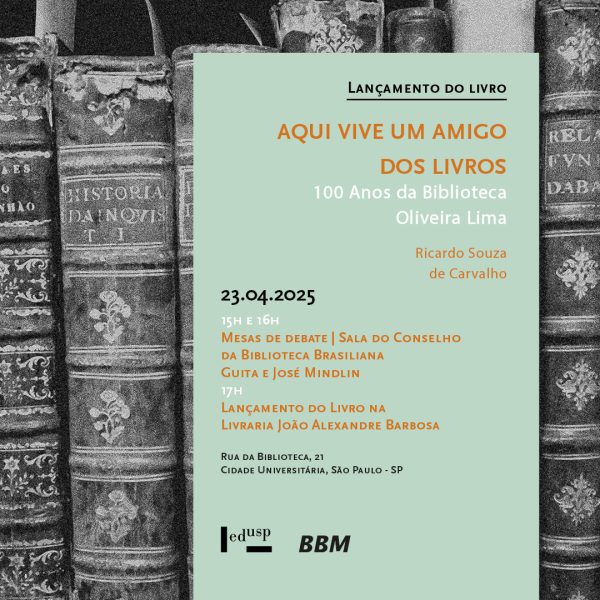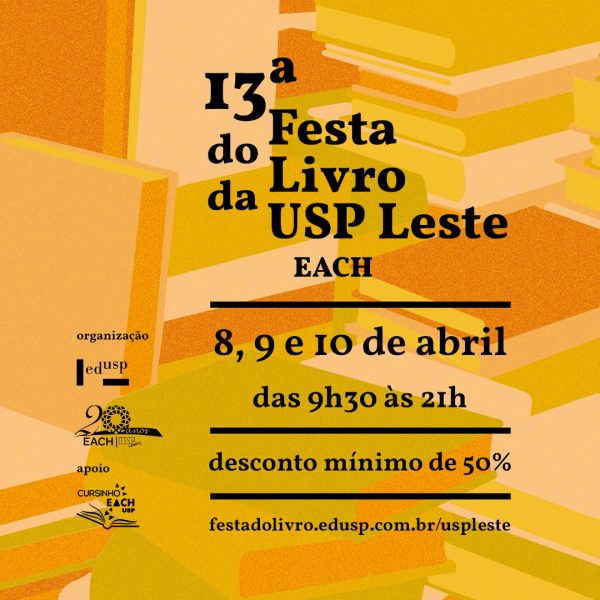Pesquisa e memória se cruzam em “Histórias do Meu Avô”, novo livro de Ana Lanna
Na obra recém-lançada pela Edusp, historiadora e professora da FAUUSP explora o contexto histórico da virada do século XX por meio da trajetória de sua família. Confira a entrevista
Em Edusp
Por Divulgação
Após duas décadas pesquisando os fluxos migratórios e o patrimônio histórico no Brasil, a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP Ana Lanna se aventurou em uma história muito próxima: a de sua família. Conversando com sua mãe, a estudiosa percebeu que a trajetória de seu avô, Mario, e bisavô, Alexandre, era parte dos mesmos fenômenos que ela pesquisava desde seu mestrado em história. O resultado dessas conexões entre o contexto histórico e a jornada individual de seus familiares foi o livro “Histórias do Meu Avô”.
A experiência do bisavô de Ana, que migrou da Itália para a capital mineira e ajudou a construir a cidade como empreiteiro, é o ponto de partida do livro. Nascida em Belo Horizonte, a autora se graduou na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na área de ciências sociais e teve a oportunidade de retornar para o estado com esse projeto e sua nova bagagem acadêmica.
Em entrevista concedida à Edusp, Ana Lanna explica o trabalho de pesquisa para a obra, composto tanto de entrevistas quanto de investigações em arquivos e documentos oficiais. Articulando seu passado familiar com sua grande experiência no estudo dos processos históricos dos séculos XIX e XX, a professora discute os desafios da migração que persistem na contemporaneidade e elucida de que maneiras o livro se distingue e se aproxima das pesquisas acadêmicas com formatos mais tradicionais.
Como surgiu o interesse de contar a história do seu avô?
Ana Lanna: Esse interesse surgiu de uma conjunção de coisas muito diferentes. Primeiro, ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica, trabalho a articulação da biografia como um tema do estudo das trajetórias individuais que gera uma forma de entendimento do mundo social. Esse aspecto foi ficando cada vez mais significativo e isso começou a tomar forma nas aulas que eu dava, nos textos que queria escrever, nas fontes de pesquisa que eu usava. Então, se eu estudava um bairro, uma rua da cidade de São Paulo, fazia isso com base nas trajetórias de pessoas que encontrava nas notícias. Elas se transformavam nos meus guias para me aproximar da escala da cidade ou da escala da imigração, que têm sido os meus temas de investigação nos últimos vinte anos. Além disso, a minha mãe foi ficando velhinha, e ela passou a gostar cada vez mais de falar das próprias histórias e memórias. Comecei a perceber que as poucas coisas que eu sabia sobre o meu avô articulavam esses temas de pesquisa com os quais eu tinha me confrontado durante a vida. Decidi então fazer das memórias da minha mãe o guia da minha pesquisa. O processo durou oito anos. Eu me encontrava com ela, ela me contava uma história e, com esses indicativos, eu ia para os arquivos e bibliotecas para buscar aquela história na impessoalidade das fontes. E alimentada disso eu voltava para conversar com a minha mãe, olhar os documentos e as fotos de família e tentar encontrar as conexões com os arquivos que tinha encontrado, transformando as fotos em documentos e não apenas em registros afetivos ou familiares. Assim fomos fazendo essa primeira construção, que depois se ampliou para meus primos e meus tios ainda vivos, com os quais eu também não tinha contato. Comecei a conversar com cada um deles e colocar em diálogo as memórias e as histórias que eles tinham daquela mesma família e daquelas mesmas pessoas com as da minha mãe, com os documentos, a bibliografia e as outras pesquisas que eu fazia. Então foi nessa convergência de estratégias que acabei construindo “Histórias do Meu Avô”.
O processo de pesquisa foi sempre nessa direção de partir dos relatos pessoais e seguir depois para os documentos?
AL: Como movimento, foi quase meio a meio. A minha mãe me contava, por exemplo: “Quando eu era menina, estudei num grupo escolar e teve uma festa em que falei italiano”. Baseada nessa fala, fui pesquisar o que foram as escolas durante o início do fascismo, como essa rede escolar do fascismo se organizou no mundo, como ela foi interditada pelo Estado brasileiro. Demorou muito para fazer tudo isso, porque foi uma pesquisa muito complexa, de muitas fontes. O livro pode ter só duas páginas sobre isso, mas demorei muito para ter a segurança daqueles dados. E depois precisava checar com a minha mãe de novo: que festa tinha sido aquela, quem tinha ido à festa, onde ela tinha feito a fantasia. Eu também não queria construir uma ficção sobre a minha família. Poderia ter ouvido meia dúzia de histórias, ido para os documentos e feito uma ficção. Mas não quis fazer isso, como também não quis construir só uma história da minha família de fato. O meu maior esforço foi fazer essa conversa do ponto de vista dos estímulos mentais, digamos assim. A conversa com a minha família e a pesquisa mais dura de fontes tiveram níveis de importância muito similares: eu fazia uma, que me obrigava a voltar para a outra, que me obrigava a refazer o caminho. Do ponto de vista do tempo, foi muito desigual, porque uma conversa era em um almoço, um Natal, um fim de semana, e o tempo de pesquisa em arquivos, jornais e outros documentos foi infinitamente maior do que o dos encontros, porque é uma garimpagem de fato, são vestígios mais difíceis. Parte dos arquivos que pesquisei estava no Brasil, parte na Itália, muitos dos arquivos eram cartoriais, difíceis de encontrar. Há duas imagens da casa que o meu bisavô construiu em Belo Horizonte. Demorei quase um ano para conseguir essas imagens, porque ia ao arquivo, precisava achar o número do IPTU e o emplacamento, esperar e catalogar. Aí veio a pandemia e eu não conseguia voltar. Os tempos foram muito desiguais e as dificuldades também.
Quando começou o processo criativo e de pesquisa do livro?
AL: Final de 2016. Havia uma dinâmica em que eu sempre aproveitava viagens a trabalho, congressos e bolsas de pesquisa em outros temas para fazer pesquisas desse projeto. Não sabia exatamente a forma que ele teria, nem mesmo se seria um livro, era muito mais um exercício intelectual. Ele vira livro ao final, mas não nasce como um projeto de livro. Quando veio a pandemia, com todo o transtorno, desenvolvi o hábito de falar todos os dias com a minha mãe. Todos os dias eu ligava para ela. Um filósofo muito interessante, Paul B. Preciado, concedeu uma entrevista em que dizia que a pandemia criou uma proximidade com os pais que ele nunca teve. Foi essa regularidade do contato, mesmo que fosse só um minuto, que muitas pessoas construíram como uma forma de sobreviver àquele caos. Durante a pandemia, tive um momento muito rico de contato com a minha mãe, e toda a pesquisa que pude fazer nos acervos digitais aconteceu nesse período. A pandemia criou também espaços que me permitiram um mergulho de maior profundidade em determinados temas, menos afetada pelo cotidiano de deslocamento. O tempo da pandemia e o tempo fora da pandemia foram bem distintos na construção do trabalho.
Em comparação com o trabalho de estudar fatos e personagens históricos, você sentiu alguma diferença na forma de abordar a pesquisa?
AL: Uma coisa que me deixou instigada foi a possibilidade de conhecer o Alexandre, que morreu antes de eu nascer. Eu só conheci o Mario. Isso me instigou porque os dois eram pessoas muito banais. Eles tinham uma rede de sociabilidade, fizeram parte das associações étnicas dos italianos em Belo Horizonte, mas eram associações sem nenhum destaque e nenhuma visibilidade, grupos de convivência mais do que qualquer outra coisa. Então eles eram pessoas com trajetórias muito recorrentes, muito usuais, nada excepcional. Acho que muitos imigrantes viveram uma ascensão social que os colocou no patamar das classes médias, mas não os transformou em elite, nem financeira nem intelectual. Para uma parcela bastante expressiva desses imigrantes, o ato migratório realmente é um processo de ascensão social, mas controlado. O meu bisavô conseguiu ter um lote, mas não conseguiu criar um patrimônio imobiliário. A sociedade local punha entraves para essa ascensão, então eles eram pessoas comuns. Acho que eles compõem essa classe média indefinível. Tive a oportunidade de falar de pessoas comuns, que são sempre os personagens que me interessam mais. Gosto dessa pessoa difusa, não identificável, porque às vezes você vai trabalhar com a história de um operário e, mesmo ele sendo operário, pobre, ele é notório, tem uma excepcionalidade. Gosto do que é considerado não excepcional. Ao mesmo tempo, foi muito estranho falar da minha família, porque de alguma maneira acabava me expondo. A impessoalidade da escrita acadêmica, em que nunca é exatamente sobre você, fica meio perdida. Isso para mim foi muito desafiador, quanto eu nomeio a minha mãe, o meu avô. Foi realmente um impasse na hora da escrita. Percebi que não só os estaria expondo, mas também a mim mesma. Ao mesmo tempo que eram pessoas comuns, eles ganharam para mim a dimensão da minha individualidade.
As pessoas da sua família com quem você conversou para conseguir informações sabiam que você tinha esse projeto?
AL: A primeira reação era sempre: “Nossa, mas por que um livro? A gente não tem nada de diferente”. Porque existe essa ideia de que só o personagem excepcional merece um livro, uma biografia. E foi muito difícil explicar que eu não estava fazendo uma biografia. Porque não é um livro sobre o meu avô. Isso até foi uma dificuldade na hora de definir o título. Não é a história do meu avô, não é a biografia dele, não é uma trajetória individual. Então como é que a gente coloca essa ambiguidade no título? Foi uma questão que discutimos muito, eu e as pessoas que construíram o livro comigo, a Ana, a editora, e o Sergio Miceli na Edusp: que título colocar para dar conta dessa situação? Mas as pessoas achavam inacreditável que alguém tão próximo pudesse virar tema de livro, nunca imaginaram essa possibilidade. Isso fez com que muitos quisessem mostrar as suas próprias memórias; foram muito generosos ao mostrar os poucos registros que tinham. Hoje a gente tem muitos registros de tudo, mas não era assim antes.
Quais foram as dificuldades e as facilidades de escrever um livro com essa singularidade?
AL: A gente só sabe que tem um livro quando ele vira livro. Você pode fazer uma tese, mas uma tese não é um livro. Você pode fazer um projeto de pesquisa com um resultado específico, mas isso não é um livro. Transformar um conjunto de reflexões num livro é sempre uma coisa diferente de escrever um livro. E, no meu caso, foi mais desafiador ainda. Quando decidi fazer isso, a grande dificuldade era a exposição: quem nomeio, quem não nomeio, como coloco a legenda nas imagens, coloco “Luciana” ou “minha mãe”? Vou chamá-lo de “Mario” ou vou nomeá-lo permanentemente como “meu avô”? O leitor talvez nem preste atenção nisso, mas foram cuidados e sutilezas com que a gente se preocupou no texto todo. Foi um desafio. Não se trata de esconder nem de revelar, mas de expor. Porém, isso também foi a coisa mais inusitada e sensacional. No dia do lançamento, eu disse que é muito mágico ter um livro que não é resultado de uma tese, nem de um financiamento de pesquisa, nem de uma obrigação. Só fiz porque quis fazer. Ele foi construído com muitos desafios pessoais e intelectuais, e com conexões. Achei um privilégio ter todo esse cuidado com a parte gráfica, com a edição, tantas leituras… Foi maravilhoso ter essa possibilidade.
As idas e vindas de Mario e Alexandre entre Itália e Brasil são caracterizadas por um contexto histórico marcante, especialmente quando Mario vai para a guerra. Levando em conta a situação histórica do Brasil e da Itália, como se deram essas viagens?
AL: O Mario e o Alexandre cruzam o Atlântico muitas vezes. Então há uma mobilidade oceânica que dá para eles uma ambiguidade muito grande, porque eles são brasileiros, mas italianos. A documentação deles também revela essa ambiguidade. Isso é uma coisa muito comum na trajetória imigrante e bem pouco trabalhada. A epígrafe de Stuart Hall que escolhi é sobre isso: mesmo que você passe quase toda a sua vida em um lugar, você mantém esse ir e vir. No caso deles, como no de muitos estrangeiros que pesquisei ao longo dos vinte anos em que estou trabalhando com esse tema, esse ir e vir é uma característica comum. Você está sempre confortável e desconfortável, você sempre lida com esse pêndulo na vida. O ato migratório é radical, mas nunca é definitivo. Sempre tem ali um senão, uma porta entreaberta. Fica esse vai e vem que é muito difícil, essa situação do ser estrangeiro; não é à toa que ela volta sempre. O que estamos vivendo hoje no mundo é isso; eu diria que 90% dos conflitos que temos no mundo estão calcados na dificuldade do estrangeiro. Você tem a promessa de um mundo interconectado, onde você pode tentar a vida em qualquer lugar, mas na verdade não pode. O tempo todo existe uma ameaça, que pode ser a guerra, o extermínio ou a deportação. Quando meu avô vê, na Segunda Guerra, que está correndo um risco real, ele pede a naturalização como brasileiro para salvaguardar a família que tinha aqui e porque podia ser mandado para um campo de concentração. E a naturalização chega tardiamente. Ele já tinha sido destruído. É duro, sempre uma situação de um não pertencimento integral. Parece que, quanto mais global é o mundo, mais intensas essas questões se tornam.
Durante a sua pesquisa, você descobriu algum fato surpreendente que incluiu no livro?
AL: Do ponto de vista das histórias pessoais, havia muitas coisas que eu não sabia. Por exemplo, todos os irmãos do meu avô que morreram, a minha bisavó ter morrido na Itália, o meu avô e a irmã terem casas de campo no mesmo lugar e nunca se encontrarem… Enfim, essa composição complexa da família, esses desencontros. Por outro lado, do ponto de vista histórico mais geral, as dimensões do horror da Primeira Guerra foram reveladas para mim nessa pesquisa. Como o Brasil não participa da Primeira Guerra, não foi um tema que tivesse estudado de fato. Então precisei ler muito sobre isso e é aterrorizante: a guerra de trincheira, a mortandade, enfim, a barbárie. Foi uma coisa muito dura de encarar e entender melhor, essa vivência do meu avô, até o silêncio dele em relação àquilo. Eu sabia da destruição da loja dele na Segunda Guerra, porque a minha mãe sempre falava da miséria que aquilo tinha sido, mas nunca tinha formulado tão claramente o embate entre esse projeto moderno de país no governo Vargas, o desenvolvimentismo brasileiro, o projeto intelectual dos modernistas e quão potente aquilo foi para construir uma rejeição ao estrangeiro. Como professora da FAU, por exemplo, entender nesse embate a mudança de um projeto arquitetônico e urbanístico para as cidades causou em mim um grande impacto, com conexões que nunca tinha feito. Foi espetacular para mim. Como aprendizado, foi muito produtivo.
Considerando os seus trabalhos acadêmicos anteriores, alguma parte dessas pesquisas entrou no livro, por tratar do mesmo contexto da história da sua família?
AL: Elas me ajudaram, abriram possibilidades de perguntas, de entendimento, ajudaram até mesmo para saber onde procurar determinado tipo de fonte documental. Esse livro se alimenta de tudo isso e é resultado da minha própria trajetória, mas é bastante original. Tive a liberdade de escrever sem tantas referências e citações. Isso dá ao texto certa densidade, mas também leveza de leitura. É uma experiência muito diferente de ler uma tese ou um texto acadêmico. Não é um livro ficcional, não é um livro memorialístico. É um texto acadêmico, mas o formato é mais livre, não se limita a determinados parâmetros de escrita, de apresentação e de argumentação. Para mim, isso tudo foi bastante inovador.